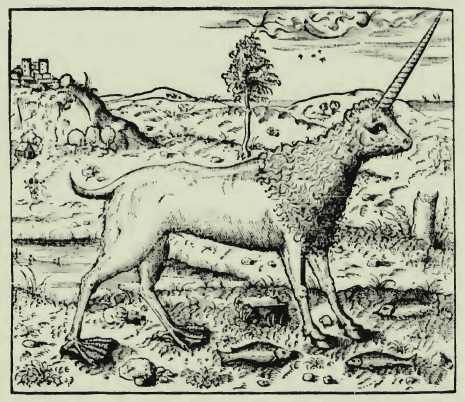Famosas pela severidade das penas, particularmente no Livro Quinto, as Ordenações do Reino (*), compiladas e publicadas no começo do Século XVII, vigoraram não apenas em Portugal, mas também em suas colônias, o que incluía o Brasil. Vale lembrar que, no caso brasileiro, mesmo após a Independência, quando faltava legislação específica, recorriam os juristas às Ordenações, e isso por muito tempo.
Veremos aqui alguns dentre os muitos casos em que, de acordo com as Ordenações, alguém seria sentenciado à morte:
Livro Primeiro
Livro Quinto
Esta lista está longe de incluir a totalidade dos crimes cuja sentença era a morte. Serve, porém, de exemplo, para que se tenha uma ideia de como os valores mudaram desde o Século XVII até nossos dias, conforme meus leitores não terão dificuldade em averiguar. Há coisas que eram punidas com a morte e que, atualmente, não são sequer avaliadas como atos criminosos.
(*) Ordenações do Reino, de acordo com a edição de 1824 da Universidade de Coimbra.
Livro Primeiro
Título XXXIII - Carcereiro que violentasse uma presa;
Título LXXVII - Carcereiro que permitisse a fuga de um sentenciado à morte;
Título LXXX - Tabelião que fizesse escritura falsa.
Livro Quinto
Título III - Quem praticasse o que era chamado de feitiçaria;
Título VIII - Quem abrisse carta do rei e revelasse segredo do rei ou do Reino;
Título IX - Membro do conselho do rei que revelasse segredos;
Título XII - Quem fizesse moeda falsa ("morte natural de fogo" !!!);
Título XV - Homem que entrasse ilicitamente em convento de freiras;
Título XIX - Homem casado com duas mulheres ou mulher casada com dois homens;
Título XXXII - Alcoviteiro de mulher casada;
Título XXXV - Assassinos em geral, salvo em caso reconhecido como de legítima defesa, lembrando que um assassino profissional (era considerado agravante) teria primeiro as mãos decepadas e só então seria executado;
Título LIV - Quem desse falso testemunho em juízo;
Título CXIII - Quem levasse metais preciosos para fora do Reino, sendo, no entanto, permitido, em caso de uma viagem, levar pouca quantidade de metal precioso, desde que em dinheiro amoedado.
Esta lista está longe de incluir a totalidade dos crimes cuja sentença era a morte. Serve, porém, de exemplo, para que se tenha uma ideia de como os valores mudaram desde o Século XVII até nossos dias, conforme meus leitores não terão dificuldade em averiguar. Há coisas que eram punidas com a morte e que, atualmente, não são sequer avaliadas como atos criminosos.
(*) Ordenações do Reino, de acordo com a edição de 1824 da Universidade de Coimbra.
Veja também: